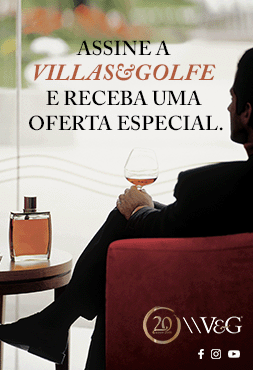O desenho à mão é algo que o completa?
Sim, desde os tempos em que pintava graffiti. O desenho à mão tem sido uma ferramenta fundamental, sobretudo na fase de esboçar ideias e tentar encontrar soluções para questões de natureza formal. A base de partida é sempre o desenho manual.
Como é que um trabalho seu, mesmo que realizado numa parede sem formas e, muitas vezes, sem vida, se torna num monumento artístico e épico?
Não sei se lhe chamaria monumentos épicos, mas a minha preocupação essencial consiste sempre em humanizar tanto o espaço como a obra em si. A intenção é desenvolver uma arte mais orgânica, mais próxima da nossa experiência da transitoriedade que nos rodeia. E humanizando o património construído no espaço público, cria-se um contraponto poético ao cinzentismo das nossas cidades, ao mesmo tempo que se convida as pessoas a refletirem sobre questões intrínsecas à vida nas sociedades urbanas contemporâneas.
Cada obra exibida retrata uma espécie de poesia visual, uma simplicidade e as emoções humanas?
Estou a tentar explorar e a comunicar vários temas que, depois, se encontram desenvolvidos de forma mais particular em cada corpo de trabalho, mas a essência do meu trabalho é uma reflexão sobre a identidade; sobre a condição humana presente; sobre a complexa relação que existe entre os seres humanos e os contextos urbanos onde a maioria hoje vive; sobre o modelo de desenvolvimento inerente às sociedades urbanas contemporâneas e algumas das suas consequências para com as pessoas e o meio.
Gosto de retratar pessoas anónimas e comuns para criar uma narrativa que fale destes encontros e confrontos entre as características locais e os padrões uniformes impostos por este modelo globalizante. Procuro, em vários níveis simbólicos e concretos, tornar visível aquilo que está invisível, sejam as camadas do substrato que se encontram enterradas nas matérias, ou pessoas e comunidades que se encontram ignoradas em determinados contextos.
Nasceu em Lisboa, mas foi o Seixal que o viu crescer. De que forma as vivências nessa terra influenciaram as suas escolhas?
Tanto Lisboa como o Seixal foram determinantes para moldar a minha visão do mundo e, por consequência, a minha vida e o meu trabalho. Tenho a certeza de que a minha arte não seria a mesma se tivesse nascido noutro lugar qualquer. Cresci numa área muito periférica nos limites do Seixal que devia mais ao campo do que ao subúrbio, mas com os anos a área construída foi-se expandindo e os espaços verdes foram desaparecendo. Esta expansão da cidade foi muito rápida, quase como se tivesse havido uma explosão em que se podiam ver claramente as ondas de choque a alastrar. Marcou-me muito e, ainda hoje, estas observações sobre um processo de desenvolvimento desenfreado, sobre as suas consequências sobre as pessoas e sobre o meio, guiam muito do meu trabalho. Com a adolescência entrei numa fase mais rebelde que coincidiu com este processo. Descobri também o graffiti na mesma altura, o que veio a mudar de forma marcante o modo como passei a ver a cidade e a realidade à minha volta. De tudo isto ficou sobretudo a vontade de interagir com o mundo, com as pessoas e o espaço público das cidades.
Vhils explora várias técnicas. O chamado «grosso do trabalho» pode ser dividido em dois grupos: um que recorre a técnicas subtrativas, com base no desbaste ou destruição de parte da matéria (corte de aglomerados de cartazes, cravar de paredes com martelo perfurador ou explosivos, etc); e outro que recorre a técnicas que têm por base a adição de materiais (técnicas não-destrutivas, como aglomerado de cortiça, metal ou cimento, peças em papel, etc.). Há, ainda, todo um conjunto de suportes que explora, como as instalações vídeo. Claro que tudo varia consoante os suportes. Entre tantos trabalhos expostos pelo mundo, aos olhos de Vhils todos os projetos tiveram a sua importância, fosse da mais pequena à mais complexa. Mas são os trabalhos feitos junto de comunidades, como em Portugal, no Brasil, na China, que o têm feito sentir-se realizado, por estar a trabalhar com pessoas que estão a viver situações críticas, o que torna muito recompensador em termos humanos. «Como no caso dos processos de expropriação e realojamentos forçados com os quais contactei no Morro da Providência e Ladeira dos Tabajaras, no Rio de Janeiro; ou no Bairro 6 de maio, na Amadora, por exemplo, é uma forma modesta de contribuir para ajudar», sublinha.
O facto de se dedicar às artes urbanas já lhe proporcionou a Ordem Militar de Sant’Iago da Espada. «O meu interesse maior é ver como é que o reconhecimento poderá trazer retorno para continuar a desenvolver trabalho e canalizar parte dele para projetos de natureza social. Neste caso em particular, perante a responsabilidade que representa a aceitação de tal reconhecimento, foi inevitável questionar-me sobre a legitimidade e o fundamento dessa distinção. Após a surpresa inicial e um longo debate interno, decidi, com humildade, aceitá-la, também em nome de todos os que não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive», menciona com respeito.
Vhils inaugurou recentemente, na galeria Danysz, em Xangai, na China, a exposição Realm, a solo. Aproveitou parte do corpo de trabalho que tinha apresentado numa exposição individual que teve no CAFA Art Museum, em Pequim, em 2017 (sob o título Imprint). A ideia foi criar um diálogo entre as duas cidades através de um corpo de trabalho que, num primeiro momento, se inspirou diretamente na realidade de Pequim, e agora, num segundo momento, se inspira em Xangai. Aproveitando a sua passagem por Xangai, irá apresentar o primeiro showcase do Festival Iminente fora da Europa, celebrando um diálogo entre a criatividade musical de raiz lusófona e chinesa.
No seu quotidiano, o artista divide o tempo entre o Vhils Studio; a Galeria Underdogs; o Festival Iminente; e a Solid Dogma. Mas, quando pode, gosta de viajar, ouvir música, ver filmes e estar com a família e amigos.