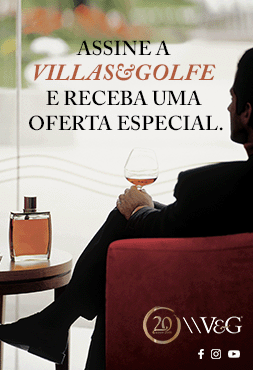O Filipe vivenciou o tempo da ditadura salazarista. Consegue identificar as grandes diferenças entre a maneira de se fazer teatro antes e depois do 25 de Abril?
Antes fazia-se bom teatro, com bons atores. Havia uma grande companhia de teatro nacional e uma companhia de ópera. Hoje não. Isto acontece devido à falta de interesse por parte dos partidos políticos. A cultura está diretamente ligada à educação, pelo que esta tem vindo a desvanecer-se. E, portanto, temos de seguir o nível cultural do público, para que este entenda as nossas peças. Mas, voltando à questão, antes do 25 de Abril, havia censura. Hoje, há uma censura económica, mais sofisticada. Noto que há palavras que foram tão sacralizadas que perderam o sentido, é o caso dos termos «liberdade» e «democracia».
O Politeama é hoje um palco, sobretudo, de memórias. Quer contar-nos a recordação que mais acarinha?
Todas. Ou melhor, a próxima. Não olho para o passado porque tenho saudades do futuro.
Fale-nos do presente projeto em que se encontra a trabalhar, Cinderela. A personagem será tal e qual como a conhecemos ou terá um toque La Féria pelo meio?
A personagem é completamente original. É uma peça que fará 300 representações, em que os atores chegam a reproduzir até seis repetições por dia. As escolas chegam do norte e sul do país para ver a Cinderela, deixando as salas lotadas.
Paralelamente, há a Revista. Um verdadeiro êxito, porque a história é abordada através do humor. A Revista começa na Monarquia e vai acompanhando sempre a linha temporal da história portuguesa. E, de facto, a grande força do teatro é contarmos a nossa história. Penso que em Portugal pecamos por fazer muitas traduções, atores a fazerem-se passar por americanos... Como tudo na vida, o teatro tem de ser localizado para ser universal. Temos de recorrer primeiro à nossa identidade e, aí sim, podemos torná-lo universal.
«Em Portugal, a maior parte dos atores faz teatro para o umbigo»
O que acrescentou o Filipe ao teatro português?
Creio que nunca houve tantas pessoas a procurarem o teatro. Com a peça Amália, por exemplo, estimam-se seis milhões e meio de expectadores, além dos outros 200 espetáculos já feitos. Eu transmito emoção, verdade e espectralidade. E, em tudo o que faça, tenho sempre presente um excerto do poema de Fernando Pessoa: «Para ser grande, sê inteiro: nada / teu exagera ou exclui». Portanto, para comunicarmos com os outros, temos de nos dar por inteiro.
Como é que enfrentou os períodos de confinamento longe do palco?
Foi muito difícil. Tive um espetáculo que aguentou, o Espero por ti no Politeama, que por muitas vezes foi realizado por dois bailarinos, em vez de dez. Tive de me adaptar. No século XXI, estamos a dar conta de como ainda nos encontramos na Idade Média. Entendemos que uma epidemia pode ser tão brutal que nos consegue reduzir a nada. A tal insignificância que temos perante o universo. O Homem é o animal mais terrível da natureza, já por isso venceu os outros animais. É o que sabe matar à distância. O leão, por exemplo, dá o corpo para matar. Nós não, somos animais hipócritas e, ao mesmo tempo, os mais inteligentes.
Entre sonhar e concretizar, qual é o caminho?
Trabalho. Sangue, suor e lágrimas. A minha mestre dizia-me que um artista precisa de 95% de trabalho e 5% de talento. Eu concordo.
Quem seria o Filipe La Féria sem o teatro?
Não existia. Nem eu era capaz de viver sem. Podia, talvez, ter sido um escritor, gosto de escrever desde pequeno. Até colaborei no Diário de Lisboa Juvenil e cheguei a ganhar prémios.
Como gostava, um dia, de ser recordado?
Na vida, tudo é esquecimento. Morreu a Eunice Muñoz e hoje quase ninguém fala dela, por exemplo. Falo eu, que lhe faço sempre uma homenagem na Revista. Na semana em que morrem são falados, mas depois... Portanto, não penso na ideia do esquecimento. A vida é insignificante e é preciso ter a humildade de nos olharmos como Camões uma vez disse: como «esse bicho da terra tão pequeno».