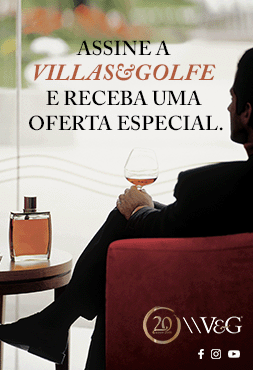Ocupa
o cargo de diretora do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) há mais de seis
anos. Vive em Londres. Como tem percorrido este caminho, desde que assumiu
funções?
De
forma muito feliz e realizada. Gosto muito do que faço. É um trabalho que tem
tanto de interessante e de envolvente, como de frustrante. O meu trabalho é,
essencialmente, garantir, sejam quais forem as conversas que estão a decorrer –
primeiro em Genebra, nos ambientes multilaterais, no conselho dos Direitos Humanos,
na Organização Mundial de Saúde –, que a igualdade de género e o investimento
na saúde sexual e reprodutiva sejam sempre tidos como estruturantes. Isso é
muito envolvente, porque o trabalho que estamos a fazer é um trabalho com muito
impacto, que vai mudar a vida das pessoas e vai mudar, sobretudo, a vida das
mulheres e das meninas. Esse é um dos nossos grandes focos. E é muito
frustrante porque o trabalho nunca está feito – cada vez que conseguimos
identificar um desafio, que está a correr bem, aparece-nos outro desafio.
Portanto, é um trabalho nunca acabado. Mas também retiramos muita alegria, ao
vermos coisas a acontecerem e ao sabermos que a vida de algumas pessoas é
melhor porque as Nações Unidas existem e estão a chamar a atenção para estes
problemas.
Com
esta mudança para Londres o que é mudou na sua vida?
Tanta
coisa. Londres é uma cidade fabulosa. Eu mudei de localização e mudei
ligeiramente de funções. Trabalho para a mesma organização, mas, agora, o meu
trabalho implica um contacto muito mais próximo com o Reino Unido, Irlanda,
Portugal, Espanha e Itália. Represento o Fundo nestes países, garantindo que os
governos tenham noção da importância de investir nas áreas em que trabalhamos.
Trago as histórias das vidas em que temos um grande impacto, sirvo como uma
espécie de ligação entre os sítios onde trabalhamos e estes países, para que se
perceba a importância destes investimentos para garantir que as meninas vão às
escolas, não se casem antes de atingirem a maioridade, fiquem livres de
mutilação genital feminina e tenham acesso ao planeamento familiar. Foi uma
mudança de local e uma mudança de funções, mas é o caminho de quem trabalha
para uma organização internacional.
E
a família acompanha-a?
A
escolha de Londres teve também muito que ver com o facto de a minha filha mais
velha ter entrado para a universidade em Londres. Foi uma escolha de carreira,
porque, ao fim de seis anos em Genebra, tinha de ir para outro lugar, e Londres
foi a escolha da organização. Candidatei-me e fiquei. Assim consegui manter as
duas filhas comigo, a mais velha e a mais pequena, e combinar a minha vida profissional
com a familiar. É caso para dizer: «A mãe foi atrás do pássaro» (risos).
Há uma narrativa, que não ajuda ninguém, que é a ideia de que nós podemos ser
felizes apenas com uma parte das nossas vidas. Não é verdade. Nós somos felizes
quando conseguimos conciliar o máximo, aquilo que são as nossas opções de
carreira com aquilo que é estruturante, que é a nossa família. E o ser mãe é
uma parte absolutamente fundamental da minha vida. Portanto, poder ser mãe num sítio
onde gosto de trabalhar é um privilégio.
«Quando
dizemos que o acesso à saúde sexual e reprodutiva salva-vidas, estamos a pensar
nas 800 mulheres que morrer todos os dias, por causas relacionadas com partos,
gravidezes ou pós-parto»
O
que faz exatamente no UNFPA?
O
UNFPA é uma organização com mais de 50 anos. Somos a agência da saúde sexual e
reprodutiva das Nações Unidas. Fazemos tudo o que tem que ver com identificar
quais são os grupos populacionais em situação de maior vulnerabilidade e
tentamos remover os obstáculos que estão entre essas pessoas e a realização dos
seus direitos e das suas escolhas. Trabalhamos para que as pessoas possam ter
uma vida com dignidade, uma vida com autonomia, na área muito concreta da
igualdade de género, da eliminação das violências e do acesso à saúde sexual e
reprodutiva. Trabalhamos no sentido de garantir o acesso ao planeamento familiar
até eliminar todas as violências contra as mulheres e meninas, como por exemplo
a mutilação genital feminina, os casamentos infantis e outras práticas tradicionais
nefastas. É um trabalho de Direitos Humanos. Começou há 50 anos, como um
trabalho de números humanos, ou seja, fomos criados para dar dados demográficos
aos estados. Não há nenhum Estado que consiga planear o seu desenvolvimento
socioeconómico sem saber o que é que vai acontecer à sua população –
quantas
pessoas vão nascer, quantas vão morrer, quantas se vão movimentar no país. Nós
damos dados aos países. Hoje, trabalhamos reconhecendo que esses dados são
pessoas com direitos.
Houve
algum momento em que assistiu a algo que a marcasse, neste seu percurso na
organização?
Tantos.
Eu candidatei-me a este lugar. Estava em Portugal, numa vida muito feliz, muito
realizada, fiz múltiplas coisas das quais tirei uma grande satisfação
profissional e pessoal, sempre tive causas, mas a verdade é que, quando me
candidatei para trabalhar no Fundo de População foi porque achei que era aquele
mandato, aquela área de trabalho que eu queria, por causas das histórias, das
vidas. Foi, por exemplo, por poder visitar um centro para meninas no Quénia e
perceber porque é que aquele centro existe. Saber que aquelas meninas, no fim
das aulas, podem ir para lá fazer os trabalhos de casa, têm acesso a formação,
têm acesso a produtos que nós temos como garantidos. Foi por conhecer uma
menina com 16 anos, que tem um filho de um ano e que diz que só pode continuar
na escola porque tem aquele centro para deixar o seu filho Gabriel enquanto vai
às aulas. Menina essa que ficou grávida durante a altura do COVID e que a mãe pôs
fora de casa, mas que continua a dizer: «Tenho 16 anos, tenho um filho e ainda
tenho sonhos». Quer ser jornalista.
Foi
por ouvir estas histórias que marcam. Por ouvir a história da menina que não foi
submetida à prática da mutilação genital feminina, porque há um centro que faz
um trabalho com as comunidades, alertando para os problemas associados,
alertando que é uma violação dos Direitos Humanos, que pode provocar problemas
de saúde mental e saúde física e, às vezes, até a morte. Como esse trabalho foi
feito, aquela menina não foi submetida à prática e, atualmente, é uma das
grandes ativistas que nós temos. Ou por ouvir as histórias das meninas que se
conseguiram salvar do casamento infantil.
Quando
ouvimos todas estas histórias sentimos alento para os dias que nos correm menos
bem. Mudamos vidas. Confesso que, hoje, custa-me ouvir determinados discursos que
quase dão como garantido tudo o que foi conseguido. Vivemos numa altura em que
os direitos das mulheres foram sendo consolidados e nós temos uma linguagem muito
progressista, sabemos o que é preciso ser feito, sabemos que tipo de
investimentos é que têm de ser feitos, e preocupa-me que não haja um sinal de
alerta perante determinados discursos que proclamam que as mulheres têm é de
estar em casa, ter filhos. Eu acho muito bem que as mulheres estejam em casa a
ter filhos, se essa for a opção delas, agora, preocupa-me, de facto, que nós
ainda possamos ter essa mentalidade. Queremos ter um mundo onde tenhamos mais
opções. Os direitos são opções. O facto de eu poder fazer alguma coisa não
significa que tenha de a fazer, mas que posso, se quiser.
O
UNFPA aborda temas fortes. De que forma se consegue ‘educar’ e sensibilizar os
cidadãos do mundo a esse respeito? E em que panorama se encontra Portugal
nestas temáticas?
A
resposta tem de ser dada com muitos dados. Tudo o que fazemos é sustentado com
provas científicas, com impacto de projetos. Quando dizemos que o acesso à
saúde sexual e reprodutiva salva vidas, estamos a pensar nas 800 mulheres que
morrem todos os dias, por causas relacionadas com partos, gravidezes ou
pós-partos. E que são causas que são preveníveis. Temos a prova de que investir
no acesso à saúde sexual e reprodutiva, com consultas pré-natais, partos
assistidos, disponibilidade de medicamentes para parar hemorragias, salva vidas.
Essa é uma das nossas formas de atuação – dados. Nós não temos opiniões, nós
temos os resultados de programas aplicados no terreno. Temos 150 escritórios,
130 em países onde executamos programas. As pessoas ficam muito preocupadas
porque demora muito tempo a alterar normas, mas sabemos que são as normas
sociais que estabelecem a pertença a grupos. A coisa boa é que elas são
construídas e podem ser desconstruídas. Veja, por exemplo, o que é que as
mulheres podiam fazer há 50 anos. Hoje, podemos fazer muito mais. Temos uma
liberdade que foi conquistada, muito duramente mas que resulta de uma alteração
do que são os papéis sociais. Há 50 anos, as mulheres não tinham o mesmo grau
de autonomia, e não tinham porque a sociedade não a reconhecia. Foi preciso ir
lutando para podermos ter uma carreira, ter família (se for a opção), podermos
exercer os nossos direitos. Esse processo de construção de uma identidade de
género, mais independente, é um processo que demorou. Décadas. E que em muitos
países está, ainda, a decorrer e, em alguns países, está a ser ameaçado. É
importante que tenhamos noção de que estas conquistas não estão escritas numa
pedra. Acho que Portugal está, no plano legislativo, muito avançado. Acho que é
dos países com melhores leis, em matéria de saúde sexual e reprodutiva, em
matéria dos direitos das mulheres. Acho que, em matéria da aplicação da lei, há
um caminho a fazer, um caminho muito positivo. Enquanto observadora atenta da
realidade nacional, até pelos cargos que já ocupei em Portugal, acho que as
conquistas estão a ir no sentido correto. Preocupa-me ainda a violência de
género, algum acesso à saúde sexual e reprodutiva. Se bem que estamos a falar
de um país desenvolvido. Mas não podemos dar nada por adquirido. O investimento
e a monotorização têm de ser constantes.
Ser
mulher alguma vez a condicionou no mundo profissional?
A
pergunta que obriga a uma reflexão muito profunda. O ser mulher traz uma série
de imagens preconcebidas, que não ajudam na construção de uma carreira. A
sociedade ainda tem uma determinada expectativa do que é ser mulher. E essa
expectativa nem sempre é empoderadora. É esperado que sejamos profissionais,
mães, donas de casa e que nos apresentemos publicamente de uma certa forma.
Esse peso excessivo das expectativas, aliado a uma série de preconceitos, mais
ou menos explícitos, criam uma grande pressão sobre nós. Sei que podemos
combater essas expectativas, mas o peso da consciência dessa expectativa e o
peso do combate criam, sobre as mulheres, um fardo que não é justo. Uma mulher,
para conseguir ser bem-sucedida profissionalmente, tem de trabalhar mais do que
os homens, porque tem uma série de preconceitos para vencer. Não se pode
normalizar isto, ou seja, não se pode aceitar que seja assim. Qualquer
sociedade tem de mudar, para poder permitir a homens e mulheres que sejam o que
entenderem, sem este peso excessivo das expectativas.
Quão
desafiante é conciliar tantos papéis numa mulher só? Como é que o tempo ganha
tempo para todos os afazeres da vida.
Com
uma definição de prioridades muito rigorosa, com uma noção muito clara de que
não há supermulheres. Nesses múltiplos papéis, há sempre algo que fica menos
bem feito. No meu caso, tenho pouco tempo para mim. E, quem me conhece, sabe
que há sempre um momento em que eu digo «estou cansada», porque sou mãe e sou
profissional, e estas são as duas dimensões mais importantes da minha vida. Não
está certo, porque eu também tenho de existir enquanto pessoa. A verdade é que
essa dimensão de mim é que fica para trás. Mas é uma escolha. É uma escolha eu
achar que ser mãe me define, estruturalmente, e que o meu trabalho me define
enquanto pessoa, enquanto membro de um coletivo. Tenho tido muita sorte na
minha vida, tenho sido tão privilegiada com as oportunidades que tive, que
sinto que é a minha obrigação retribuir. E retribuo trabalhando. Estou sempre
bem disposta. Arranjo sempre uma energia qualquer. E é porque estou
profundamente grata pelas oportunidades que tive. A minha vida tem sido uma
sucessão de oportunidades que me têm sido postas à frente. Tenho trabalhado
para elas, mas acho que há aqui um elemento de estar no sítio certo, na hora
certa. E de ter as pessoas de quem gosto ao meu lado. Eu tive o privilégio de
estudar numa escola pública de qualidade, de ter um serviço nacional de saúde
de grande qualidade, que me permitiu começar em Valbom, Gondomar, numa família
muito modesta, e conseguir fazer uma carreira internacional. Um caminho que foi
o elevador social. Se o nosso Estado não tivesse investido nas boas escolas em
que eu andei, se o elevador social não tivesse funcionado, a minha vida não
seria a mesma. Eu não só tenho de estar profundamente grata, como tenho de
retribuir.
É-lhe
permitido falhar, enquanto mulher?
Não (risos). Em teoria, sim. Mas a
verdade é que nós colocamos (que pergunta tão gira) a nós mesmas bitolas de
sucesso, que são quase inatingíveis. Não só não podemos falhar, como não
podemos ficar frustradas, quando não atingimos o que queremos. Diria que estou
rodeada de família e amigos que me têm amparado e que me têm sustentado em
muitos momentos em que não consigo o que quero, em que não atinjo os meus
objetivos.
«Uma
mulher para conseguir ser bem-sucedida profissionalmente tem de trabalhar mais
do que os homens, porque tem uma série de preconceitos para vencer»