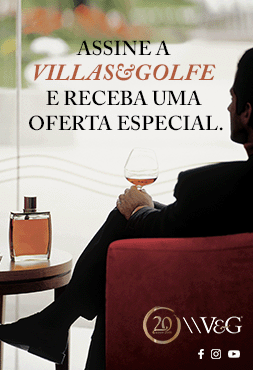A rebeldia da juventude fez com que tirasse Direito, mas foi como gestor que se destacou toda a vida. Dentro e fora da banca. Refere com frequência que o mercado tem atração por si em períodos de crise, mas também admite o contrário. Talvez por isso tenha assumido a presidência do Novo Banco, com a difícil tarefa de fazer desaparecer as memórias do malfadado BES. O objetivo era ficar por seis meses. Quando lá chegou, achou que ficaria apenas por seis dias. Acabou por ficar por seis anos. António Ramalho sairá do cargo em agosto, mas até lá garante continuar em funções de corpo de alma. O maior legado é a reestruturação da polémica instituição que colocou no trilho dos lucros. Um caminho marcado por polémicas e por um pesado escrutínio que o catapultaram para os holofotes políticos. Termina como começou, aficionado por desafios.
É jurista de formação, mas a verdade é que foi quase toda a vida gestor. Que retrospetiva faz da sua carreira?
Sou filho de uma matemática e de um financeiro. O meu pai era diretor da banca, a minha mãe professora de matemáticas aplicadas. Portanto, toda a minha formação foi quantitativa. Não sei se, por vingança aos meus pais, que acontece às vezes quando se é jovem, resolvi ir para Direito, que acho que é, do ponto de vista linguístico, a aproximação mais próxima da abstração matemática. Porque nós temos que partir de várias hipóteses para tirar determinadas conclusões. Tirei o curso na Universidade Católica, que na altura
tinha um grande contributo ainda da estrutura de gestão, porque a Gestão tinha precedido o Direito na Católica de Lisboa. E isso permitiu-me, desde cedo, ter uma vocação muito voltada para a atividade bancária, para a atividade financeira. E como tinha muito boa preparação matemática, uma boa preparação quantitativa, não foi difícil para mim. Portanto, até fui sempre um gestor particularmente focado em números, e focado em quantificações, o que é estranho para uma pessoa que tem uma formação básica de Direito. E assim foi. A minha carreira de gestor começou basicamente na Associação Portuguesa de Bancos. Depois, especializei-me em mercados financeiros e mercados de capitais, o que na altura era uma coisa razoavelmente desconhecida. Fiz uma formação em Oxford, o que me levou mais tarde a ir para o Banco Pinto e Sotto Mayor. Entrei posteriormente para o Grupo Champalimaud, onde fui administrador com 32 anos, e aí foi talvez a minha maior experiência, a que mais me marcou enquanto gestor financeiro. Veio o Santander, seguindo-se anos de trabalho umas vezes dentro da banca, outras vezes fora da banca, porque também fiz as minhas experiências fora da banca, em empresas de todos os setores, onde, de alguma maneira, os desafios eram um elemento essencial.
O que é que caracteriza a minha carreira? A minha carreira é a de millennium num corpo mais lento. Desempenhei missões que não tiveram um período demasiado longo, pois acho que a rotação é um dos instrumentos fundamentais da moderna gestão. Portanto, exerci com grande intensidade essa rotação. Acabei por contribuir na gestão de quatro grandes grupos financeiros em Portugal, o Grupo Champalimaud, o Grupo Santander, o Grupo Millenium BCP e o Grupo Novo Banco. E fora da minha atividade do setor bancário, geri a CP Comboios de Portugal, de que fui presidente, a Estradas de Portugal, a Refer, tendo sido responsável pela fusão das duas na Infraestruturas de Portugal, da qual fui o primeiro presidente. Portanto, diria que foi uma atividade sempre voltada para dar resposta a necessidades financeiras, mas muito rica do ponto de vista das experiências, da aprendizagem, do contributo que recebi de todas as equipas que geri, porque nós não somos mais do que motivadores de equipas.
Portanto, está satisfeito?
Muito satisfeito. Tive uma vida cheia, como pode imaginar. São 36 anos de atividade bancária, 29 anos na administração de grandes empresas. Há mais de dez que sou CEO de empresas. É uma vida muito intensa do ponto de vista, digamos assim, do contributo que procuramos dar em todos os momentos à sociedade, e ao impacto que conseguimos ter, umas vezes seguramente mais bem-sucedidos, outras menos, sempre com opiniões divergentes de quem gere connosco, mas deixei em todos os lados grandes amizades e sobretudo uma enorme capacidade de aprendizagem.
«Nós não somos mais do que motivadores de equipas»
Tem dito que o mercado tem uma certa atração por si quando há períodos de crise. Partindo dessa ideia, duas questões. Porque é que acha que isso acontece? E não será esta uma altura de especial crise para o ‘homem das crises’ ir embora?
É verdade, já disse isso várias vezes, porque um gestor tem uma dimensão técnica, uma dimensão emocional e uma dimensão humana. E a minha dimensão técnica e as minhas virtudes técnicas são sobretudo na quantificação, na aprendizagem de experiências que tive. Do ponto de vista das minhas qualidades humanas, são as que tenho. Sou uma pessoa estável, com uma estrutura familiar muito estável. Gosto daquilo que se chama a vida tradicional portuguesa, uma estrutura familiar, calma e serena. Do ponto de vista emocional, calha que sou bem preparado para momentos difíceis. Isto é, nunca vi um momento difícil que não fosse uma oportunidade. E, portanto, em todas as situações em que repentinamente há muitas dificuldades, normalmente, eu sou um gestor bem-dotado emocionalmente para responder a essas dificuldades, juntando pessoas, motivando equipas, encontrando soluções, nunca desistindo. E se pensar nas Infraestruturas ou nas Estradas de Portugal, se pensar no Novo Banco – porque na altura eu vim para cá por seis meses, quando cheguei, pensei que ficaria por seis dias e acabei por ficar seis anos –, se pensar no desafio da Unicre, quando existia uma grande dúvida da Autoridade da Concorrência, ou que fui para o Millennium BCP exatamente na maior crise que teve em 2010, que entrei no Sotto Mayor em 1993, quando este falhou a primeira privatização e tudo indicava que teríamos problemas, diria que a vida me ensinou a estar muito bem preparado para essas situações. Portanto, naturalmente, costumo dizer que as pessoas também olham para mim em função dessas situações. Não vou negar que, se o mercado tem atração por mim, eu também tenho atração por essas situações. Mas também devemos ter a consciência de que há um momento da nossa vida em que estamos próximos do cansaço. E é o que se passa agora. Portanto, independentemente, o banco, no caso concreto do banco, a parte da missão que me cabia está feita. O banco está reestruturado e saudável para o mercado. Por outro lado, é verdade que há uma crise na sociedade, não sei que outras oportunidades ainda me acontecerão na vida, mas eu também sou muito consciente de que tenho que assegurar a aprendizagem da reputação e do phase out. Uma pessoa deve deixar de jogar quando ainda é titular. E saber sair é tão importante como aprender a entrar. Acho que chegou o momento de assegurar este modelo de rotação. Tenho defendido muito que os mandatos não se podem eternizar. Todos os exemplos de eternização que vi na gestão de empresas, na gestão do país, etc., resultaram mal. Por isso acho que a rotação deve ser um exercício que nós colocamos a nós próprios, porque há uma diferença entre estatuto e situação. O que nós desempenhamos na sociedade são situações. O estatuto que temos, esse sim, é eterno, é sermos pais, é sermos filhos, é sermos avós, é sermos maridos, é sermos mulheres. Isso é que são estatutos e esses é que são permanentes. O resto são situações e essas situações devem rodar com naturalidade.
Qual o grande legado que vai deixar?
Isso vamos ver em agosto. Eu até agosto estou de corpo inteiro, mas julgo que deixo, digamos assim, aquilo que estava, aparentemente, difícil de ser conseguido. O banco foi dissolvido em 2014, não teve solução até 2017, e eu sou o terceiro presidente deste banco e de alguma maneira presenciei a possibilidade de o capitalizar, com o esforço por parte do Fundo de Resolução, com o esforço dos acionistas privados, com esforço dos obrigacionistas, com o esforço dos contribuintes portugueses. Mas o que acho que esperariam, e aquilo que no futuro irão pensar, foi se todo esse esforço se justificou para atingir os objetivos definidos na altura. E nós cumprimos, religiosamente, todos os objetivos que foram fixados em 2017. Exatamente dentro do quadro do orçamento e dos timings. O que deixo de legado é o cumprimento dessa fase. Adicionalmente, deixo outra coisa. É que durante todo este período não deixamos de ter a motivação das equipas para servir a economia, para servir a sociedade, para utilizar as suas competências próprias para aquilo que é a função e o impacto na sociedade que as empresas devem ter. E se pensar, tivemos um teste adicional, porque quando estávamos mesmo no final do nosso processo de reestruturação tivemos a pandemia, e o banco foi o primeiro a ir para o mercado responder àquilo que eram as necessidades das empresas, e teve um esforço notável, tão bom como o dos outros bancos, mas numa altura em que se podia pensar que não estava em condições para isso e já estava. Portanto, o meu grande orgulho são os meus colaboradores, curiosamente, é o orgulho mais secreto que tenho: em todos os momentos, nunca deixaram de pensar na economia portuguesa. O resto são pequenos detalhes. Alguns deles obviamente que deixam sempre, digamos assim, muita emoção. Mas o essencial na gestão é conseguir atingir os objetivos centrais, que neste caso foram conseguidos. É o legado que eu deixo.
«Nunca vi um momento difícil que não fosse uma oportunidade»
Vai continuar como o consultor. A ideia é abrandar o ritmo? O que gostaria de fazer com o tempo livre que possa vir a ter?
Tenho três netos, todos muito próximos, e quero acompanhar os meus netos um pouco mais do que acompanhei as minhas filhas. E dar à família um bocadinho deste esforço que lhe foi pedido durante estes 29 anos de administração de alto nível. Isso é o meu primeiro objetivo. O segundo, é dar o meu contributo profissional de impacto na sociedade da forma melhor que eu posso dar. E, neste momento, o que eu posso dar é exatamente sendo consultor, sendo conselheiro, ainda que vá, desde já, fazer mais uma reciclagem académica, não executiva. Irei para a Suíça e depois para os Estados Unidos. Deixar de vestir a pele de um executivo para vestir a pele do não executivo obriga também a um exercício académico. E eu já não sou novo. Vou fazer 62 anos. Na sociedade moderna, acho que as pessoas devem ter várias profissões durante a sua vida profissional, porque a solução anterior, que era ter uma carreira académica até aos 25 anos, depois ter uma carreira profissional até aos 65, e no fim uma reforma, não se concilia com aquilo que é hoje a aprendizagem que é necessária durante a vida, mas também o tempo que estamos disponíveis para trabalhar e ter um impacto na sociedade. Portanto, vai ser um novo ciclo na minha vida.
Saindo da Avenida da Liberdade, o Novo Banco será uma das últimas grandes instituições bancárias a abandonar o coração de Lisboa. Não acha que podemos estar diante de uma perda de identidade patrimonial e cultural?
O problema que me coloca é interessante porque há vários dilemas que têm que ser conjugados. O primeiro é que existe uma necessidade de atribuir aos locais de trabalho um enquadramento diferente no pós-pandemia. O equilíbrio entre o trabalho em casa e o trabalho no escritório, a necessidade de adicionais flexibilidades, mas de encontros culturais que determinem também a cultura das empresas, leva a que o exterior dos edifícios seja mais relevante do que apenas o interior. E isso atira-nos para fora da cidade. Graças a Deus, o banco já tinha um grupo de instalações no Taguspark e uma zona de campus. O que vamos é melhorar muito toda essa estrutura e encontrar um modelo de resposta às necessidades que se colocam do século XXI, a partir de 2022/23, para oferecer melhores condições a um tipo de trabalho que é diferente, onde é preciso mais espaço, onde é preciso um tipo de trabalho em que a conjugação entre o in e o out seja mais válida. E, simultaneamente, onde o home office e o work place to live seja mais enquadrado. Achamos que temos todas as condições para o fazer. Isso liberta-nos este edifício. Mas essa não é a razão pela qual nós queremos o campus. O campus é um conceito novo, mais moderno, mais adequado a esta realidade. Mas, por outro lado, a sua pergunta é uma pergunta de caráter cultural. Eu acho que, pelo contrário, devolver o centro da cidade a alguma tipologia residencial e alguma tipologia de pessoas, que não sejam apenas os locais de trabalho das 08:00 horas ou das 08:30 horas até às 18:00 horas, é positivo para a vida e para o pulsar das cidades. E nas grandes cidades, como Lisboa ou Porto, sente-se hoje que são mais vivas, têm mais pulsar, têm mais realidade, ainda que o centro normalmente esteja muito ocupado por residentes estrangeiros. Mas a verdade é que o próprio turismo é uma residência, digamos assim, pontual. E, no fundo, o que se valoriza é a sua atividade e a sua realidade e a sua identidade, do ponto de vista cultural. Cabe a quem gere estes territórios a capacidade de conjugar estes diversos dilemas. Seguramente que vai perder mais locais de trabalho entre as 9:00 horas e as 18:00 horas, mas se calhar pode ganhar uma valorização destes ativos para mais tarde. Uma das vantagens de circular entre muitos empregos é que já trabalhei em quase todo o lado da cidade de Lisboa e fora da cidade de Lisboa. Para jovens como a Filomena isto não tem relevo, mas hoje em dia comovo-me quando entro à noite no Chiado ou na Baixa lisboeta, porque trabalhei na baixa lisboeta e quando saía do banco, do Crédito Predial ou do Totta, não via vivalma às 20:00 horas. E hoje sentir as pessoas a conviver com a cidade é muito mais válido. Há que conjugar isso, obviamente, para que a cidade não perca as características próprias. Não acho que as duas grandes cidades de Portugal, Lisboa e Porto, possam perder as suas culturas próprias. Primeiro, porque Lisboa é uma cidade do mar. O rio e o mar criam um espelho d'água que lhe dá uma luz que mais ninguém tem. E, segundo, porque o Porto tem um toquezinho inglês, tem um toque de estrutura tradicional que nunca perderá. Portanto, eu digo que as duas cidades são até muito características, muito consistentes e a devolução dos centros às pessoas que tem ocorrido nos últimos anos, seja por força do turismo, seja por força de residência, ainda que de residência seja preferencialmente estrangeiros, por causa dos preços, acho que é bastante positivo para a cidade. Portanto, deixe as empresas irem à procura dos seus espaços mais amplos, mais verdes, mais ecológicos e mais sustentáveis. Porque as pessoas, depois de saírem do Taguspark às 18:00 horas, se calhar vêm jantar ao centro da cidade de Lisboa com outro gosto e outro entusiasmo.
«Saber sair é tão importante como aprender a entrar»
O perfil dos investidores tem vindo a mudar. Os bancos têm conseguido acompanhar esta mudança do crescimento imobiliário?
Acho que sim. Temos um investimento imobiliário neste momento que vive de algum desequilíbrio, quase inevitável, entre a oferta e a procura. Isso verifica-se por vários motivos, que a pandemia agravou. Primeiro, porque trouxe um aumento significativo da taxa de poupança das famílias. A taxa de poupança portuguesa passou para 11,5% no final de 2021. Depois, mantiveram-se taxas de juro muito baixas e com taxas de juro muito baixas não havia alternativas de investimento significativas. Isso trouxe um aumento enorme de liquidez. Conjuntamente com estas três razões meramente financeiras, houve uma alteração de comportamentos, em que se valorizou a residência refúgio. Verificamos isto nas pessoas que, por exemplo, encontraram fora das grandes cidades o espaço para ficar. Mas encontramos também pessoas, próximo das cidades, a querer condições diferentes para viver, porque sabiam que tinham que trabalhar em casa, que tinham que ter as suas crianças em casa, e que tinham de conjugar essa nova realidade. Naturalmente, essa tripla razão financeira, acrescentada desta razão de diferença de comportamentos, onde a distância ficou mais curta e a mobilidade ficou mais difícil, que é uma coisa curiosa, tornou-nos mais próximos digitalmente e, no entanto, a mobilidade ficou mais longa, porque com as dificuldades da pandemia são mais difíceis de encontrar os modelos de movimentação. A conjugação destes dois efeitos trouxe naturalmente uma atração muito significativa sobre a residência. Acho que os portugueses que estavam razoavelmente conciliados com as suas residências começaram a pensar se podiam ou não podiam mudar. E assim como pensaram os portugueses, pensaram os estrangeiros. E naturalmente, os estrangeiros têm valores de referência diferentes dos nossos. Isto aconteceu exatamente no período em que se a estava a recuperar a oferta para a procura, mas em que a oferta ainda não tinha atingido a procura e a pandemia atrasou naturalmente o crescimento da construção. E, portanto, quando nós passamos agora para as 160, 170 mil casas vendidas por ano, não temos produção para estas casas e o que acontece é uma subida de preços em função destas circunstâncias. E nós vimos isso nas compras que cresceram em casas novas no ano 2021, em 42,6%. E nas casas já existentes, 61,2%. É um número significativo no valor. Até porque isto também trazia remunerações, do ponto de vista financeiro eram bons. Só para ter uma ideia, a recuperação do investimento que é feito no imobiliário residencial está nos 4,7% no Porto e 4,1% em Lisboa. Não consegue nenhum depósito a prazo que se aproxime sequer de um valor que dê alguma remuneração. Claro que estas características trouxeram este problema dos estrangeiros para o centro das cidades. Segundo o Instituto Nacional de Estatística de 2021, os estrangeiros compraram em Lisboa a 4.283 euros o metro quadrado, enquanto a média dos portugueses foi de 1.858 euros. Foi mais do dobro o que o estrangeiro pagou em relação ao português, naturalmente nas zonas melhores. Mas este fenómeno é de escala global. Somos o país que tem uma linha de água e uma linha de luz absolutamente ímpares. Temos um nível de mobilidade europeia muitíssimo bom, porque temos os destinos todos a partir da cidade de Lisboa com movimentos fáceis do ponto de vista do aeroporto, que é dentro da cidade. Temos boas condições de saúde. Depois, temos um país pequeno que ainda por cima está ligado por auto-estradas boas e adequadas. Temos uma belíssima rede de fibra ótica que nos permite, aliás, acelerar os processos 5G, apesar de termos começado tarde. Isto é muito atrativo para estrangeiros. Além disso, não somos caros para a média europeia. Portanto, isso significa basicamente que somos um espaço territorial muito atrativo. É normal que estas zonas se tornem o modelo de aliciamento ao investimento. Se nos adaptámos a isso? Eu julgo que sim. Quer dizer, ou procuramos. Nós, por exemplo, temos um nível de crédito à habitação para não residentes que é significativo. Como é que fizemos? Primeiro, adaptámos os nossos colaboradores a muitas línguas. Nós falamos todas as línguas aqui. Se for sueca, nós temos suecos a responder, se for chinês, temos pessoas que respondem em chinês, além de que o inglês se tornou uma língua franca, mas de resposta, digamos assim, às necessidades. Ajustamos também os nossos modelos de financiamento e, sobretudo, conjugamos respostas em relação às necessidades que os residentes têm, que são diferentes das necessidades dos não residentes. Agora, o que é que os não residentes também precisam quando vêm para Portugal? Apoio para jogar golfe, apoio na área da saúde e apoio na área das escolas. Porque precisam de enquadrar soluções para as suas famílias se as suas famílias também vierem para cá e o ensino é fundamental. A área da saúde é essencial porque eles precisam de ter segurança, saber que têm respostas e, curiosamente, também aquilo que nós sabemos que é a vida saudável, ao ar livre. Eu disse-lhe golfe, com respeito pela Villas&Golfe, mas não é só golfe. É golfe, é bicicleta, é caminhar a pé, é aventura. São outfits que, de alguma maneira, hoje em dia são essenciais para que os estrangeiros se sintam bem neste país, e com o nível de segurança que nós temos, podemos circular em qualquer sítio sem qualquer risco adicional. Ou sem perceção desse risco adicional.
No fundo, demos resposta a necessidades que não eram apenas as de ter uma casa. E eu acho que as instituições financeiras rapidamente também se adaptaram, e nós sabemos isso porque a concorrência aumentou.
Mas a avaliação dos imóveis, relativamente à venda que é feita, cria um problema para quem é de cá e continua a ter um salário adequado ao país que tem, perdendo as vantagens de ter acesso a um crédito. Isto é um problema que parece não ter fim...
Eu vou ser cauteloso na minha resposta. Julgo que poucas pessoas em Portugal que tenham um emprego estável não encontrem uma solução habitacional à sua disposição. Primeiro, porque o mercado de arrendamento aumentou, não é que o mercado de arrendamento seja barato, mas aumentando alarga o espectro das possibilidades.E numa altura em que as pessoas podem querer menos perda de mobilidade isso pode ser um ponto importante. O segundo ponto é que temos que encontrar o equilíbrio adequado entre aquilo que são as capacidades que as pessoas têm do ponto de vista da sua taxa de esforço e aquilo que devem assumir em relação às suas responsabilidades com a habitação. A compra de habitação é sobretudo difícil, numa primeira fase, pois normalmente a valorização da habitação é compensadora em relação à taxa de juro que se paga, em relação às prestações que se paga, e à amortização que se consegue. Os bancos portugueses têm uma técnica de amortizar desde a primeira hora, o que significa basicamente que as pessoas vão reduzindo a sua dívida quando a casa não perde o seu valor. Pelo contrário, a casa até valoriza, normalmente, o que significa tecnicamente que, em rigor, as pessoas estão a fazer poupança. Têm é que saber qual é a poupança que podem fazer. E aí a dúvida é se vale a pena ser mais cauteloso com a poupança, ou se vale a pena terem uma assoalhada a mais. Por isso sou cauteloso a dizer isto tudo. Porque às vezes, na procura de terem uma casa melhor, uma casa mais bem localizada, com melhores condições, as pessoas gastam um bocadinho mais do que aquilo que são as suas necessidades. Mas isso afasta, por exemplo, os jovens do centro da cidade? Claro. Se nós queremos jovens no centro da cidade temos que criar políticas de incentivo para que isso aconteça. Com vendas controladas, com a intervenção camarária nesse sentido, que podem ser feitas, sempre foram feitas, de uma forma mais ou menos seletiva, de uma forma razoavelmente descentralizada, porque, com o devido respeito, eu não encontro nenhum estrangeiro, seguramente em Portugal, que quer viver num sítio onde não haja jovens.
Agora, para resolver o problema da habitação, como ele existe, obviamente que tem que haver alguma subsidiação pública nas situações sociais que precisam de apoio e deve haver a cautela dos bancos para oferecerem as condições mais adequadas. A qualidade que oferecemos às pessoas do ponto de vista de habitação deve ser conjugada com estas cautelas. Porque, repare bem, quando eu digo que a sua taxa de esforço é o elemento central para a compra de casa estou a dizer que há uma parcela do seu rendimento que vai ser consumido em investimento, porque a casa é um consumo de investimento, porque está a investir em poupança e está a investir em utilidade. E, portanto, obviamente que representa um certo sacrifício. Agora, a pior coisa que podemos fazer é entregarmos-mos aos três D's, que normalmente o início da vida podem criar: a doença, o desemprego e o divórcio, que são os três elementos que claramente criam um incumprimento nos créditos à habitação. Portanto, é mais útil que os bancos sejam cautelosos na origem, sejam mais aconselhadores e menos agressivos.
«O meu grande orgulho são os meus colaboradores, curiosamente, é o orgulho mais secreto que tenho»
As grandes metrópoles, como Lisboa e os arredores, começam a esgotar-se. Há forma de tornar o interior atrativo?
Sim, o país inclinou-se, litoralizando-se, isso é inegável, quer do ponto de vista da construção dos grandes blocos de cidades, quer o bloco do grande Porto, quer o de Lisboa. E se juntarmos ao Grande Porto Braga, e à grande Lisboa Setúbal, temos 80% da população centrada nestes dois pontos e, portanto, esta litoralização do país é ainda, na minha opinião, o resquício do nosso conceito atlântico de vida. Nós tivemos durante anos um processo de desenvolvimento do Atlântico, tivemos oito séculos de história centrados no atlantismo do nosso conceito de desenvolvimento. O Terreiro do Paço e os nossos ministérios estão virados para o rio, não para o país. O conceito é pombalino, não é de agora, Portugal fez uma opção há muitos anos de ser um país europeu, num país europeu as fronteiras estão do lado de Espanha. Portanto, devíamos virar um bocadinho o país do avesso e não tivemos esse país do avesso porque o país está litoralizado, as estradas estão no litoral, os metros no litoral, as atividades industriais no litoral. Criámos todas as condições para a litoralização do país. Acho que vai ser um processo muito lento, mas um processo importante de dar ao interior a mobilidade e a utilidade que ele pode ter para um desenvolvimento harmonioso. Não digo que o desenvolvimento harmonioso é feito por causa de um paradigma que seja uma a interiorização. Não concordo com ele, porque as pessoas escolhem os sítios onde vivem. Portanto, aquela ideia de dizer que vamos todos para o interior porque é bonito não me parece a melhor do mundo. Acredito muito no meu país, acredito que vai ter mais oito séculos de história virados agora mais para a Europa. E se for virado para a Europa, este conceito vai obrigar a um desenvolvimento muito específico dessas ligações ao interior através de modelos de suporte de clusterização. Isto é, nós vamos ter que encontrar nos nossos pólos de atração dentro do interior, que tenham tido a mesma capacidade de atração que outros povos tiveram. Vai obrigar a que os parques industriais estejam num sítio próprio e não noutros sítios, não podem ser totalmente dispersos. Que o emprego e as universidades que sejam criadas tenham as suas vocações de desenvolvimento local. Évora, Vila Real ou Viseu são três grandes exemplos onde estruturas universitárias foram particularmente relevantes a criar competências e desenvolvimento local. O fundamental é que não se dupliquem as estruturas, mas se potenciem estruturas. Eu julgo que isso vai acontecer naturalmente, em condições de mercado, mas nós sabemos que nestas coisas o mercado tem sempre que ser um bocadinho ajudado. Eu já fui mais defensor de que o mercado funcionasó por si, mas de vez em quando tem que ter uma certa ajudinha e se isso for um desígnio nacional, o desígnio da Europa, como um conceito de vermos uma fronteira do outro lado, o lado de Espanha, então, nessa altura nós devíamos fazer uma aposta significativa nesse sentido, tanto mais que, se deixámos de subsidiar o litoral – nós continuamos a subsidiar o litoral –, as pessoas também terão mais tendência a encontrar outros equilíbrios do ponto de vista do território. Agora, isso é um trabalho de várias gerações e, portanto, é preciso desenhar com esse tempo, com essa paciência e com essa tolerância, porque um país que viveu do mar passar a ser um país que vai viver de um continente é uma mudança estratégica que vai demorar várias gerações.
É jurista de formação, mas a verdade é que foi quase toda a vida gestor. Que retrospetiva faz da sua carreira?
Sou filho de uma matemática e de um financeiro. O meu pai era diretor da banca, a minha mãe professora de matemáticas aplicadas. Portanto, toda a minha formação foi quantitativa. Não sei se, por vingança aos meus pais, que acontece às vezes quando se é jovem, resolvi ir para Direito, que acho que é, do ponto de vista linguístico, a aproximação mais próxima da abstração matemática. Porque nós temos que partir de várias hipóteses para tirar determinadas conclusões. Tirei o curso na Universidade Católica, que na altura
tinha um grande contributo ainda da estrutura de gestão, porque a Gestão tinha precedido o Direito na Católica de Lisboa. E isso permitiu-me, desde cedo, ter uma vocação muito voltada para a atividade bancária, para a atividade financeira. E como tinha muito boa preparação matemática, uma boa preparação quantitativa, não foi difícil para mim. Portanto, até fui sempre um gestor particularmente focado em números, e focado em quantificações, o que é estranho para uma pessoa que tem uma formação básica de Direito. E assim foi. A minha carreira de gestor começou basicamente na Associação Portuguesa de Bancos. Depois, especializei-me em mercados financeiros e mercados de capitais, o que na altura era uma coisa razoavelmente desconhecida. Fiz uma formação em Oxford, o que me levou mais tarde a ir para o Banco Pinto e Sotto Mayor. Entrei posteriormente para o Grupo Champalimaud, onde fui administrador com 32 anos, e aí foi talvez a minha maior experiência, a que mais me marcou enquanto gestor financeiro. Veio o Santander, seguindo-se anos de trabalho umas vezes dentro da banca, outras vezes fora da banca, porque também fiz as minhas experiências fora da banca, em empresas de todos os setores, onde, de alguma maneira, os desafios eram um elemento essencial.
O que é que caracteriza a minha carreira? A minha carreira é a de millennium num corpo mais lento. Desempenhei missões que não tiveram um período demasiado longo, pois acho que a rotação é um dos instrumentos fundamentais da moderna gestão. Portanto, exerci com grande intensidade essa rotação. Acabei por contribuir na gestão de quatro grandes grupos financeiros em Portugal, o Grupo Champalimaud, o Grupo Santander, o Grupo Millenium BCP e o Grupo Novo Banco. E fora da minha atividade do setor bancário, geri a CP Comboios de Portugal, de que fui presidente, a Estradas de Portugal, a Refer, tendo sido responsável pela fusão das duas na Infraestruturas de Portugal, da qual fui o primeiro presidente. Portanto, diria que foi uma atividade sempre voltada para dar resposta a necessidades financeiras, mas muito rica do ponto de vista das experiências, da aprendizagem, do contributo que recebi de todas as equipas que geri, porque nós não somos mais do que motivadores de equipas.
Portanto, está satisfeito?
Muito satisfeito. Tive uma vida cheia, como pode imaginar. São 36 anos de atividade bancária, 29 anos na administração de grandes empresas. Há mais de dez que sou CEO de empresas. É uma vida muito intensa do ponto de vista, digamos assim, do contributo que procuramos dar em todos os momentos à sociedade, e ao impacto que conseguimos ter, umas vezes seguramente mais bem-sucedidos, outras menos, sempre com opiniões divergentes de quem gere connosco, mas deixei em todos os lados grandes amizades e sobretudo uma enorme capacidade de aprendizagem.
«Nós não somos mais do que motivadores de equipas»
Tem dito que o mercado tem uma certa atração por si quando há períodos de crise. Partindo dessa ideia, duas questões. Porque é que acha que isso acontece? E não será esta uma altura de especial crise para o ‘homem das crises’ ir embora?
É verdade, já disse isso várias vezes, porque um gestor tem uma dimensão técnica, uma dimensão emocional e uma dimensão humana. E a minha dimensão técnica e as minhas virtudes técnicas são sobretudo na quantificação, na aprendizagem de experiências que tive. Do ponto de vista das minhas qualidades humanas, são as que tenho. Sou uma pessoa estável, com uma estrutura familiar muito estável. Gosto daquilo que se chama a vida tradicional portuguesa, uma estrutura familiar, calma e serena. Do ponto de vista emocional, calha que sou bem preparado para momentos difíceis. Isto é, nunca vi um momento difícil que não fosse uma oportunidade. E, portanto, em todas as situações em que repentinamente há muitas dificuldades, normalmente, eu sou um gestor bem-dotado emocionalmente para responder a essas dificuldades, juntando pessoas, motivando equipas, encontrando soluções, nunca desistindo. E se pensar nas Infraestruturas ou nas Estradas de Portugal, se pensar no Novo Banco – porque na altura eu vim para cá por seis meses, quando cheguei, pensei que ficaria por seis dias e acabei por ficar seis anos –, se pensar no desafio da Unicre, quando existia uma grande dúvida da Autoridade da Concorrência, ou que fui para o Millennium BCP exatamente na maior crise que teve em 2010, que entrei no Sotto Mayor em 1993, quando este falhou a primeira privatização e tudo indicava que teríamos problemas, diria que a vida me ensinou a estar muito bem preparado para essas situações. Portanto, naturalmente, costumo dizer que as pessoas também olham para mim em função dessas situações. Não vou negar que, se o mercado tem atração por mim, eu também tenho atração por essas situações. Mas também devemos ter a consciência de que há um momento da nossa vida em que estamos próximos do cansaço. E é o que se passa agora. Portanto, independentemente, o banco, no caso concreto do banco, a parte da missão que me cabia está feita. O banco está reestruturado e saudável para o mercado. Por outro lado, é verdade que há uma crise na sociedade, não sei que outras oportunidades ainda me acontecerão na vida, mas eu também sou muito consciente de que tenho que assegurar a aprendizagem da reputação e do phase out. Uma pessoa deve deixar de jogar quando ainda é titular. E saber sair é tão importante como aprender a entrar. Acho que chegou o momento de assegurar este modelo de rotação. Tenho defendido muito que os mandatos não se podem eternizar. Todos os exemplos de eternização que vi na gestão de empresas, na gestão do país, etc., resultaram mal. Por isso acho que a rotação deve ser um exercício que nós colocamos a nós próprios, porque há uma diferença entre estatuto e situação. O que nós desempenhamos na sociedade são situações. O estatuto que temos, esse sim, é eterno, é sermos pais, é sermos filhos, é sermos avós, é sermos maridos, é sermos mulheres. Isso é que são estatutos e esses é que são permanentes. O resto são situações e essas situações devem rodar com naturalidade.
Qual o grande legado que vai deixar?
Isso vamos ver em agosto. Eu até agosto estou de corpo inteiro, mas julgo que deixo, digamos assim, aquilo que estava, aparentemente, difícil de ser conseguido. O banco foi dissolvido em 2014, não teve solução até 2017, e eu sou o terceiro presidente deste banco e de alguma maneira presenciei a possibilidade de o capitalizar, com o esforço por parte do Fundo de Resolução, com o esforço dos acionistas privados, com esforço dos obrigacionistas, com o esforço dos contribuintes portugueses. Mas o que acho que esperariam, e aquilo que no futuro irão pensar, foi se todo esse esforço se justificou para atingir os objetivos definidos na altura. E nós cumprimos, religiosamente, todos os objetivos que foram fixados em 2017. Exatamente dentro do quadro do orçamento e dos timings. O que deixo de legado é o cumprimento dessa fase. Adicionalmente, deixo outra coisa. É que durante todo este período não deixamos de ter a motivação das equipas para servir a economia, para servir a sociedade, para utilizar as suas competências próprias para aquilo que é a função e o impacto na sociedade que as empresas devem ter. E se pensar, tivemos um teste adicional, porque quando estávamos mesmo no final do nosso processo de reestruturação tivemos a pandemia, e o banco foi o primeiro a ir para o mercado responder àquilo que eram as necessidades das empresas, e teve um esforço notável, tão bom como o dos outros bancos, mas numa altura em que se podia pensar que não estava em condições para isso e já estava. Portanto, o meu grande orgulho são os meus colaboradores, curiosamente, é o orgulho mais secreto que tenho: em todos os momentos, nunca deixaram de pensar na economia portuguesa. O resto são pequenos detalhes. Alguns deles obviamente que deixam sempre, digamos assim, muita emoção. Mas o essencial na gestão é conseguir atingir os objetivos centrais, que neste caso foram conseguidos. É o legado que eu deixo.
«Nunca vi um momento difícil que não fosse uma oportunidade»
Vai continuar como o consultor. A ideia é abrandar o ritmo? O que gostaria de fazer com o tempo livre que possa vir a ter?
Tenho três netos, todos muito próximos, e quero acompanhar os meus netos um pouco mais do que acompanhei as minhas filhas. E dar à família um bocadinho deste esforço que lhe foi pedido durante estes 29 anos de administração de alto nível. Isso é o meu primeiro objetivo. O segundo, é dar o meu contributo profissional de impacto na sociedade da forma melhor que eu posso dar. E, neste momento, o que eu posso dar é exatamente sendo consultor, sendo conselheiro, ainda que vá, desde já, fazer mais uma reciclagem académica, não executiva. Irei para a Suíça e depois para os Estados Unidos. Deixar de vestir a pele de um executivo para vestir a pele do não executivo obriga também a um exercício académico. E eu já não sou novo. Vou fazer 62 anos. Na sociedade moderna, acho que as pessoas devem ter várias profissões durante a sua vida profissional, porque a solução anterior, que era ter uma carreira académica até aos 25 anos, depois ter uma carreira profissional até aos 65, e no fim uma reforma, não se concilia com aquilo que é hoje a aprendizagem que é necessária durante a vida, mas também o tempo que estamos disponíveis para trabalhar e ter um impacto na sociedade. Portanto, vai ser um novo ciclo na minha vida.
Saindo da Avenida da Liberdade, o Novo Banco será uma das últimas grandes instituições bancárias a abandonar o coração de Lisboa. Não acha que podemos estar diante de uma perda de identidade patrimonial e cultural?
O problema que me coloca é interessante porque há vários dilemas que têm que ser conjugados. O primeiro é que existe uma necessidade de atribuir aos locais de trabalho um enquadramento diferente no pós-pandemia. O equilíbrio entre o trabalho em casa e o trabalho no escritório, a necessidade de adicionais flexibilidades, mas de encontros culturais que determinem também a cultura das empresas, leva a que o exterior dos edifícios seja mais relevante do que apenas o interior. E isso atira-nos para fora da cidade. Graças a Deus, o banco já tinha um grupo de instalações no Taguspark e uma zona de campus. O que vamos é melhorar muito toda essa estrutura e encontrar um modelo de resposta às necessidades que se colocam do século XXI, a partir de 2022/23, para oferecer melhores condições a um tipo de trabalho que é diferente, onde é preciso mais espaço, onde é preciso um tipo de trabalho em que a conjugação entre o in e o out seja mais válida. E, simultaneamente, onde o home office e o work place to live seja mais enquadrado. Achamos que temos todas as condições para o fazer. Isso liberta-nos este edifício. Mas essa não é a razão pela qual nós queremos o campus. O campus é um conceito novo, mais moderno, mais adequado a esta realidade. Mas, por outro lado, a sua pergunta é uma pergunta de caráter cultural. Eu acho que, pelo contrário, devolver o centro da cidade a alguma tipologia residencial e alguma tipologia de pessoas, que não sejam apenas os locais de trabalho das 08:00 horas ou das 08:30 horas até às 18:00 horas, é positivo para a vida e para o pulsar das cidades. E nas grandes cidades, como Lisboa ou Porto, sente-se hoje que são mais vivas, têm mais pulsar, têm mais realidade, ainda que o centro normalmente esteja muito ocupado por residentes estrangeiros. Mas a verdade é que o próprio turismo é uma residência, digamos assim, pontual. E, no fundo, o que se valoriza é a sua atividade e a sua realidade e a sua identidade, do ponto de vista cultural. Cabe a quem gere estes territórios a capacidade de conjugar estes diversos dilemas. Seguramente que vai perder mais locais de trabalho entre as 9:00 horas e as 18:00 horas, mas se calhar pode ganhar uma valorização destes ativos para mais tarde. Uma das vantagens de circular entre muitos empregos é que já trabalhei em quase todo o lado da cidade de Lisboa e fora da cidade de Lisboa. Para jovens como a Filomena isto não tem relevo, mas hoje em dia comovo-me quando entro à noite no Chiado ou na Baixa lisboeta, porque trabalhei na baixa lisboeta e quando saía do banco, do Crédito Predial ou do Totta, não via vivalma às 20:00 horas. E hoje sentir as pessoas a conviver com a cidade é muito mais válido. Há que conjugar isso, obviamente, para que a cidade não perca as características próprias. Não acho que as duas grandes cidades de Portugal, Lisboa e Porto, possam perder as suas culturas próprias. Primeiro, porque Lisboa é uma cidade do mar. O rio e o mar criam um espelho d'água que lhe dá uma luz que mais ninguém tem. E, segundo, porque o Porto tem um toquezinho inglês, tem um toque de estrutura tradicional que nunca perderá. Portanto, eu digo que as duas cidades são até muito características, muito consistentes e a devolução dos centros às pessoas que tem ocorrido nos últimos anos, seja por força do turismo, seja por força de residência, ainda que de residência seja preferencialmente estrangeiros, por causa dos preços, acho que é bastante positivo para a cidade. Portanto, deixe as empresas irem à procura dos seus espaços mais amplos, mais verdes, mais ecológicos e mais sustentáveis. Porque as pessoas, depois de saírem do Taguspark às 18:00 horas, se calhar vêm jantar ao centro da cidade de Lisboa com outro gosto e outro entusiasmo.
«Saber sair é tão importante como aprender a entrar»
O perfil dos investidores tem vindo a mudar. Os bancos têm conseguido acompanhar esta mudança do crescimento imobiliário?
Acho que sim. Temos um investimento imobiliário neste momento que vive de algum desequilíbrio, quase inevitável, entre a oferta e a procura. Isso verifica-se por vários motivos, que a pandemia agravou. Primeiro, porque trouxe um aumento significativo da taxa de poupança das famílias. A taxa de poupança portuguesa passou para 11,5% no final de 2021. Depois, mantiveram-se taxas de juro muito baixas e com taxas de juro muito baixas não havia alternativas de investimento significativas. Isso trouxe um aumento enorme de liquidez. Conjuntamente com estas três razões meramente financeiras, houve uma alteração de comportamentos, em que se valorizou a residência refúgio. Verificamos isto nas pessoas que, por exemplo, encontraram fora das grandes cidades o espaço para ficar. Mas encontramos também pessoas, próximo das cidades, a querer condições diferentes para viver, porque sabiam que tinham que trabalhar em casa, que tinham que ter as suas crianças em casa, e que tinham de conjugar essa nova realidade. Naturalmente, essa tripla razão financeira, acrescentada desta razão de diferença de comportamentos, onde a distância ficou mais curta e a mobilidade ficou mais difícil, que é uma coisa curiosa, tornou-nos mais próximos digitalmente e, no entanto, a mobilidade ficou mais longa, porque com as dificuldades da pandemia são mais difíceis de encontrar os modelos de movimentação. A conjugação destes dois efeitos trouxe naturalmente uma atração muito significativa sobre a residência. Acho que os portugueses que estavam razoavelmente conciliados com as suas residências começaram a pensar se podiam ou não podiam mudar. E assim como pensaram os portugueses, pensaram os estrangeiros. E naturalmente, os estrangeiros têm valores de referência diferentes dos nossos. Isto aconteceu exatamente no período em que se a estava a recuperar a oferta para a procura, mas em que a oferta ainda não tinha atingido a procura e a pandemia atrasou naturalmente o crescimento da construção. E, portanto, quando nós passamos agora para as 160, 170 mil casas vendidas por ano, não temos produção para estas casas e o que acontece é uma subida de preços em função destas circunstâncias. E nós vimos isso nas compras que cresceram em casas novas no ano 2021, em 42,6%. E nas casas já existentes, 61,2%. É um número significativo no valor. Até porque isto também trazia remunerações, do ponto de vista financeiro eram bons. Só para ter uma ideia, a recuperação do investimento que é feito no imobiliário residencial está nos 4,7% no Porto e 4,1% em Lisboa. Não consegue nenhum depósito a prazo que se aproxime sequer de um valor que dê alguma remuneração. Claro que estas características trouxeram este problema dos estrangeiros para o centro das cidades. Segundo o Instituto Nacional de Estatística de 2021, os estrangeiros compraram em Lisboa a 4.283 euros o metro quadrado, enquanto a média dos portugueses foi de 1.858 euros. Foi mais do dobro o que o estrangeiro pagou em relação ao português, naturalmente nas zonas melhores. Mas este fenómeno é de escala global. Somos o país que tem uma linha de água e uma linha de luz absolutamente ímpares. Temos um nível de mobilidade europeia muitíssimo bom, porque temos os destinos todos a partir da cidade de Lisboa com movimentos fáceis do ponto de vista do aeroporto, que é dentro da cidade. Temos boas condições de saúde. Depois, temos um país pequeno que ainda por cima está ligado por auto-estradas boas e adequadas. Temos uma belíssima rede de fibra ótica que nos permite, aliás, acelerar os processos 5G, apesar de termos começado tarde. Isto é muito atrativo para estrangeiros. Além disso, não somos caros para a média europeia. Portanto, isso significa basicamente que somos um espaço territorial muito atrativo. É normal que estas zonas se tornem o modelo de aliciamento ao investimento. Se nos adaptámos a isso? Eu julgo que sim. Quer dizer, ou procuramos. Nós, por exemplo, temos um nível de crédito à habitação para não residentes que é significativo. Como é que fizemos? Primeiro, adaptámos os nossos colaboradores a muitas línguas. Nós falamos todas as línguas aqui. Se for sueca, nós temos suecos a responder, se for chinês, temos pessoas que respondem em chinês, além de que o inglês se tornou uma língua franca, mas de resposta, digamos assim, às necessidades. Ajustamos também os nossos modelos de financiamento e, sobretudo, conjugamos respostas em relação às necessidades que os residentes têm, que são diferentes das necessidades dos não residentes. Agora, o que é que os não residentes também precisam quando vêm para Portugal? Apoio para jogar golfe, apoio na área da saúde e apoio na área das escolas. Porque precisam de enquadrar soluções para as suas famílias se as suas famílias também vierem para cá e o ensino é fundamental. A área da saúde é essencial porque eles precisam de ter segurança, saber que têm respostas e, curiosamente, também aquilo que nós sabemos que é a vida saudável, ao ar livre. Eu disse-lhe golfe, com respeito pela Villas&Golfe, mas não é só golfe. É golfe, é bicicleta, é caminhar a pé, é aventura. São outfits que, de alguma maneira, hoje em dia são essenciais para que os estrangeiros se sintam bem neste país, e com o nível de segurança que nós temos, podemos circular em qualquer sítio sem qualquer risco adicional. Ou sem perceção desse risco adicional.
No fundo, demos resposta a necessidades que não eram apenas as de ter uma casa. E eu acho que as instituições financeiras rapidamente também se adaptaram, e nós sabemos isso porque a concorrência aumentou.
Mas a avaliação dos imóveis, relativamente à venda que é feita, cria um problema para quem é de cá e continua a ter um salário adequado ao país que tem, perdendo as vantagens de ter acesso a um crédito. Isto é um problema que parece não ter fim...
Eu vou ser cauteloso na minha resposta. Julgo que poucas pessoas em Portugal que tenham um emprego estável não encontrem uma solução habitacional à sua disposição. Primeiro, porque o mercado de arrendamento aumentou, não é que o mercado de arrendamento seja barato, mas aumentando alarga o espectro das possibilidades.E numa altura em que as pessoas podem querer menos perda de mobilidade isso pode ser um ponto importante. O segundo ponto é que temos que encontrar o equilíbrio adequado entre aquilo que são as capacidades que as pessoas têm do ponto de vista da sua taxa de esforço e aquilo que devem assumir em relação às suas responsabilidades com a habitação. A compra de habitação é sobretudo difícil, numa primeira fase, pois normalmente a valorização da habitação é compensadora em relação à taxa de juro que se paga, em relação às prestações que se paga, e à amortização que se consegue. Os bancos portugueses têm uma técnica de amortizar desde a primeira hora, o que significa basicamente que as pessoas vão reduzindo a sua dívida quando a casa não perde o seu valor. Pelo contrário, a casa até valoriza, normalmente, o que significa tecnicamente que, em rigor, as pessoas estão a fazer poupança. Têm é que saber qual é a poupança que podem fazer. E aí a dúvida é se vale a pena ser mais cauteloso com a poupança, ou se vale a pena terem uma assoalhada a mais. Por isso sou cauteloso a dizer isto tudo. Porque às vezes, na procura de terem uma casa melhor, uma casa mais bem localizada, com melhores condições, as pessoas gastam um bocadinho mais do que aquilo que são as suas necessidades. Mas isso afasta, por exemplo, os jovens do centro da cidade? Claro. Se nós queremos jovens no centro da cidade temos que criar políticas de incentivo para que isso aconteça. Com vendas controladas, com a intervenção camarária nesse sentido, que podem ser feitas, sempre foram feitas, de uma forma mais ou menos seletiva, de uma forma razoavelmente descentralizada, porque, com o devido respeito, eu não encontro nenhum estrangeiro, seguramente em Portugal, que quer viver num sítio onde não haja jovens.
Agora, para resolver o problema da habitação, como ele existe, obviamente que tem que haver alguma subsidiação pública nas situações sociais que precisam de apoio e deve haver a cautela dos bancos para oferecerem as condições mais adequadas. A qualidade que oferecemos às pessoas do ponto de vista de habitação deve ser conjugada com estas cautelas. Porque, repare bem, quando eu digo que a sua taxa de esforço é o elemento central para a compra de casa estou a dizer que há uma parcela do seu rendimento que vai ser consumido em investimento, porque a casa é um consumo de investimento, porque está a investir em poupança e está a investir em utilidade. E, portanto, obviamente que representa um certo sacrifício. Agora, a pior coisa que podemos fazer é entregarmos-mos aos três D's, que normalmente o início da vida podem criar: a doença, o desemprego e o divórcio, que são os três elementos que claramente criam um incumprimento nos créditos à habitação. Portanto, é mais útil que os bancos sejam cautelosos na origem, sejam mais aconselhadores e menos agressivos.
«O meu grande orgulho são os meus colaboradores, curiosamente, é o orgulho mais secreto que tenho»
As grandes metrópoles, como Lisboa e os arredores, começam a esgotar-se. Há forma de tornar o interior atrativo?
Sim, o país inclinou-se, litoralizando-se, isso é inegável, quer do ponto de vista da construção dos grandes blocos de cidades, quer o bloco do grande Porto, quer o de Lisboa. E se juntarmos ao Grande Porto Braga, e à grande Lisboa Setúbal, temos 80% da população centrada nestes dois pontos e, portanto, esta litoralização do país é ainda, na minha opinião, o resquício do nosso conceito atlântico de vida. Nós tivemos durante anos um processo de desenvolvimento do Atlântico, tivemos oito séculos de história centrados no atlantismo do nosso conceito de desenvolvimento. O Terreiro do Paço e os nossos ministérios estão virados para o rio, não para o país. O conceito é pombalino, não é de agora, Portugal fez uma opção há muitos anos de ser um país europeu, num país europeu as fronteiras estão do lado de Espanha. Portanto, devíamos virar um bocadinho o país do avesso e não tivemos esse país do avesso porque o país está litoralizado, as estradas estão no litoral, os metros no litoral, as atividades industriais no litoral. Criámos todas as condições para a litoralização do país. Acho que vai ser um processo muito lento, mas um processo importante de dar ao interior a mobilidade e a utilidade que ele pode ter para um desenvolvimento harmonioso. Não digo que o desenvolvimento harmonioso é feito por causa de um paradigma que seja uma a interiorização. Não concordo com ele, porque as pessoas escolhem os sítios onde vivem. Portanto, aquela ideia de dizer que vamos todos para o interior porque é bonito não me parece a melhor do mundo. Acredito muito no meu país, acredito que vai ter mais oito séculos de história virados agora mais para a Europa. E se for virado para a Europa, este conceito vai obrigar a um desenvolvimento muito específico dessas ligações ao interior através de modelos de suporte de clusterização. Isto é, nós vamos ter que encontrar nos nossos pólos de atração dentro do interior, que tenham tido a mesma capacidade de atração que outros povos tiveram. Vai obrigar a que os parques industriais estejam num sítio próprio e não noutros sítios, não podem ser totalmente dispersos. Que o emprego e as universidades que sejam criadas tenham as suas vocações de desenvolvimento local. Évora, Vila Real ou Viseu são três grandes exemplos onde estruturas universitárias foram particularmente relevantes a criar competências e desenvolvimento local. O fundamental é que não se dupliquem as estruturas, mas se potenciem estruturas. Eu julgo que isso vai acontecer naturalmente, em condições de mercado, mas nós sabemos que nestas coisas o mercado tem sempre que ser um bocadinho ajudado. Eu já fui mais defensor de que o mercado funcionasó por si, mas de vez em quando tem que ter uma certa ajudinha e se isso for um desígnio nacional, o desígnio da Europa, como um conceito de vermos uma fronteira do outro lado, o lado de Espanha, então, nessa altura nós devíamos fazer uma aposta significativa nesse sentido, tanto mais que, se deixámos de subsidiar o litoral – nós continuamos a subsidiar o litoral –, as pessoas também terão mais tendência a encontrar outros equilíbrios do ponto de vista do território. Agora, isso é um trabalho de várias gerações e, portanto, é preciso desenhar com esse tempo, com essa paciência e com essa tolerância, porque um país que viveu do mar passar a ser um país que vai viver de um continente é uma mudança estratégica que vai demorar várias gerações.