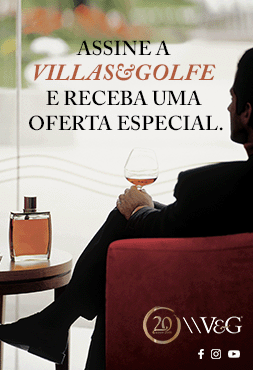Nascida no Huambo, Angola, em pleno ano pandémico (Gripe Asiática), começou o curso de Medicina na Faculdade de Luanda, influenciada por duas amigas. Hoje, tem 64 anos e muitas ‘gripes’ gravadas na memória. Em Portugal, não haverá quem lhe desconheça o nome ou as feições. Resiliente, de voz doce, manteve-se firme, semanas a fio, durante a atualização da evolução da COVID-19. Um ano e meio de grande intensidade, que ainda terá mais capítulos antes de terminar. Graça Freitas, uma das mulheres fortes que a pandemia catapultou para os holofotes, é a diretora-geral da Saúde. Um nome que veio para ficar.
Se lhe fosse possível eleger, quais seriam os momentos que mais marcaram o país e o mundo nestes últimos 20 anos?
Haverá muitos, mas os que, pessoalmente, mais me tocaram foram o 11 de setembro de há 20 anos, precisamente, e a atual pandemia. Do primeiro, recordarei sempre, com toda a nitidez, a imagem do embate do primeiro avião na primeira torre, quer em termos imediatos, daquele dia, quer pelas suas consequências para a nossa vida coletiva de futuro. Ao segundo momento, não há como escapar. Foi, de facto, esta pandemia. Já passei por mais do que uma, porque tenho 64 anos e nasci no ano pandémico de 1957. A minha mãe teve gripe pandémica dias antes de eu nascer; eu tive gripe na pandemia seguinte, em 1968. Depois, como profissional, passei pela pandemia da gripe de 2009, vivi várias ameaças biológicas – a pior de todas foi a SARS, em 2003, também provocada por um coronavírus –, mas, de facto, esta pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2 não tem paralelo, foi e ainda é brutal. Na vida de todos nós, na nossa vida relacional, na nossa saúde, no nosso bem-estar e até na forma como morremos neste último ano e meio. E o medo que nos acompanhou.Foi uma mudança brutal pela magnitude e rapidez dos impactos. Jamais me esquecerei da imagem da cidade de Wuhan sem pessoas, como da imagem da zona da cidade onde vivo, quando, num fim de semana, no primeiro confinamento, não vi ninguém da minha varanda. Nesse dia, fui à rua dar um «passeio higiénico» e ouvi o que nunca tinha ouvido na minha cidade: pássaros, grilos, rãs, patos e sons de outros bichos desconhecidos. E comentei com o meu marido: «De onde é que vieram estes bichos todos?». A resposta foi: «Eles já cá estavam. Nós é que não os ouvíamos». Antes havia ruído, o ruído da gente. Esta pandemia, por tudo o que significou na nossa vida emocional, na nossa saúde física, mental e social, na rapidez com que nos desafia, nos impactos que teve, e tem, em milhões de pessoas em simultâneo é, de facto, um acontecimento que nunca esqueceremos.
Profissionalmente, qual foi o momento mais decisivo para si nestas duas décadas?
Os momentos mais marcantes foram as duas pandemias. Eu chorei quando vi a Margaret Chan, da Organização Mundial da Saúde, a anunciar a pandemia da gripe de 2009, porque esteve sempre muito presente na minha vida, sobretudo como estudante de Medicina e como médica, o que tinha sido a «gripe espanhola», a quantidade de pessoas que tinha morrido, o sofrimento que tinha acarretado, o medo do contágio dessa doença e como esse medo tinha alterado radicalmente as relações entre as pessoas. Li muito sobre essa pandemia. Ao longo dos últimos 40 anos, vivi com as histórias da «gripe espanhola», que eclodiu em 1918 e deu origem a uma grande catástrofe humanitária. Quando, na Direção Geral da Saúde (DGS), começámos a fazer planos de contingência para uma possível pandemia, no nosso espírito esteve sempre a «gripe espanhola», até porque tínhamos tido um incidente recente com a chamada «gripe das galinhas de Hong Kong», que tinha provocado uma enorme letalidade e levou ao extermínio de milhões de aves para se conseguir conter esse surto. Portanto, para mim, foi muito chocante assistir ao início de uma nova pandemia por vírus da gripe, com medo de que pudesse ser como a pandemia de 1918. Quando foi anunciada, pensei que, no fim, eu e os meus próximos poderíamos ter perdido amigos, familiares ou as nossas próprias vidas. Que o mapa dos nossos afetos seria drasticamente afetado e que a sociedade seria fragilizada. Felizmente, o vírus não foi tão grave como se previa e as repercussões não foram tão dramáticas.No entanto, na pandemia atual, comparando com a «gripe espanhola», apesar de termos outras ferramentas, outra estrutura social, de termos aplicado massivamente medidas não farmacológicas, de termos muito melhor capacidade assistencial e tempos diferentes, chegámos a este ponto, vítimas desta pandemia, porque somos um planeta sobrelotado e com uma mobilidade de pessoas e bens sem precedentes. Confinámos, isolámo-nos, muitos adoeceram, muitos tiveram familiares e amigos que adoeceram, e outros, infelizmente, morreram. De alguma forma, esta pandemia refletiu o medo e os impactos sanitários, sociais e económicos que a pandemia da gripe de 2009 não concretizou. O sentimento de que quando «acabar» vamos ser diferentes, vamos ser menos e vamos ter perdas a lamentar é muito claro. De qualquer forma, criou uma série de oportunidades e mostrou quão capazes somos de dar resposta à adversidade, de nos adaptarmos, de lutarmos, de fazer quase o impossível para controlar um vírus ou outras ameaças. Quando tudo começou, fomos capazes de conter a doença por um período de tempo que utilizámos para organizar as respostas seguintes. E isso porque tínhamos um Plano de Contingência que aplicámos. Agora, nesta fase atual, com vacinas que foram descobertas e fabricadas em tempo recorde, teremos controlado a transmissão do vírus para níveis que conseguiremos gerir sem disfunção excessiva. Apesar do sucesso que foi a vacinação em Portugal e noutros países, continuamos com receio das mutações, das variantes, se as variantes vão ser mais agressivas, se vão ter capacidade de escapar ao nosso sistema imunitário. Esta pandemia está longe de ter terminado. Ainda temos de estar atentos e vigilantes, de estar cautelosos, mas, simultaneamente, temos de viver vidas mais livres e, portanto, aqui também uma palavra de otimismo, de esperança, porque temos de continuar a cuidar dos nossos, a ver os amigos, a descansar, a divertirmo-nos, a passear, a cultivarmo-nos, a fazer planos. Esta é a grande capacidade que temos enquanto seres humanos: regenerar-nos e, apesar das adversidades, olharmos sempre para a frente e continuarmos, lutando por uma sociedade mais justa, melhores condições de trabalho, melhores condições de saúde, melhores condições de vida. Há sempre um admirável mundo novo à nossa espera.
Qual seria, no seu entender, a mudança mais urgente que o país e o mundo precisariam operar nos próximos 20 anos?
Gostaria que os próximos anos trouxessem maior solidariedade, mais justiça e menos desigualdades, iniquidades e assimetrias, aproveitando a transformação digital para impulsionar a excelência e a segurança nas várias vertentes da nossa vida individual e coletiva, maior capacidade de nos entendermos, de comunicarmos, para alcançar objetivos para o bem comum, melhorando de alguma forma o que somos enquanto espécie, mais criativa, mais justa, mais empática, humanizada e solidária. Pensamos muitas vezes nas diferenças que há na região europeia e mesmo no nosso país, mas também no mundo, e preocupamo-nos com essas diferenças, que nos separam, que criam fossos entre os povos, que nos ameaçam em conjunto. Esta pandemia provou que a fragilidade de uns é a vulnerabilidade de todos.
Se lhe fosse possível eleger, quais seriam os momentos que mais marcaram o país e o mundo nestes últimos 20 anos?
Haverá muitos, mas os que, pessoalmente, mais me tocaram foram o 11 de setembro de há 20 anos, precisamente, e a atual pandemia. Do primeiro, recordarei sempre, com toda a nitidez, a imagem do embate do primeiro avião na primeira torre, quer em termos imediatos, daquele dia, quer pelas suas consequências para a nossa vida coletiva de futuro. Ao segundo momento, não há como escapar. Foi, de facto, esta pandemia. Já passei por mais do que uma, porque tenho 64 anos e nasci no ano pandémico de 1957. A minha mãe teve gripe pandémica dias antes de eu nascer; eu tive gripe na pandemia seguinte, em 1968. Depois, como profissional, passei pela pandemia da gripe de 2009, vivi várias ameaças biológicas – a pior de todas foi a SARS, em 2003, também provocada por um coronavírus –, mas, de facto, esta pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2 não tem paralelo, foi e ainda é brutal. Na vida de todos nós, na nossa vida relacional, na nossa saúde, no nosso bem-estar e até na forma como morremos neste último ano e meio. E o medo que nos acompanhou.Foi uma mudança brutal pela magnitude e rapidez dos impactos. Jamais me esquecerei da imagem da cidade de Wuhan sem pessoas, como da imagem da zona da cidade onde vivo, quando, num fim de semana, no primeiro confinamento, não vi ninguém da minha varanda. Nesse dia, fui à rua dar um «passeio higiénico» e ouvi o que nunca tinha ouvido na minha cidade: pássaros, grilos, rãs, patos e sons de outros bichos desconhecidos. E comentei com o meu marido: «De onde é que vieram estes bichos todos?». A resposta foi: «Eles já cá estavam. Nós é que não os ouvíamos». Antes havia ruído, o ruído da gente. Esta pandemia, por tudo o que significou na nossa vida emocional, na nossa saúde física, mental e social, na rapidez com que nos desafia, nos impactos que teve, e tem, em milhões de pessoas em simultâneo é, de facto, um acontecimento que nunca esqueceremos.
Profissionalmente, qual foi o momento mais decisivo para si nestas duas décadas?
Os momentos mais marcantes foram as duas pandemias. Eu chorei quando vi a Margaret Chan, da Organização Mundial da Saúde, a anunciar a pandemia da gripe de 2009, porque esteve sempre muito presente na minha vida, sobretudo como estudante de Medicina e como médica, o que tinha sido a «gripe espanhola», a quantidade de pessoas que tinha morrido, o sofrimento que tinha acarretado, o medo do contágio dessa doença e como esse medo tinha alterado radicalmente as relações entre as pessoas. Li muito sobre essa pandemia. Ao longo dos últimos 40 anos, vivi com as histórias da «gripe espanhola», que eclodiu em 1918 e deu origem a uma grande catástrofe humanitária. Quando, na Direção Geral da Saúde (DGS), começámos a fazer planos de contingência para uma possível pandemia, no nosso espírito esteve sempre a «gripe espanhola», até porque tínhamos tido um incidente recente com a chamada «gripe das galinhas de Hong Kong», que tinha provocado uma enorme letalidade e levou ao extermínio de milhões de aves para se conseguir conter esse surto. Portanto, para mim, foi muito chocante assistir ao início de uma nova pandemia por vírus da gripe, com medo de que pudesse ser como a pandemia de 1918. Quando foi anunciada, pensei que, no fim, eu e os meus próximos poderíamos ter perdido amigos, familiares ou as nossas próprias vidas. Que o mapa dos nossos afetos seria drasticamente afetado e que a sociedade seria fragilizada. Felizmente, o vírus não foi tão grave como se previa e as repercussões não foram tão dramáticas.No entanto, na pandemia atual, comparando com a «gripe espanhola», apesar de termos outras ferramentas, outra estrutura social, de termos aplicado massivamente medidas não farmacológicas, de termos muito melhor capacidade assistencial e tempos diferentes, chegámos a este ponto, vítimas desta pandemia, porque somos um planeta sobrelotado e com uma mobilidade de pessoas e bens sem precedentes. Confinámos, isolámo-nos, muitos adoeceram, muitos tiveram familiares e amigos que adoeceram, e outros, infelizmente, morreram. De alguma forma, esta pandemia refletiu o medo e os impactos sanitários, sociais e económicos que a pandemia da gripe de 2009 não concretizou. O sentimento de que quando «acabar» vamos ser diferentes, vamos ser menos e vamos ter perdas a lamentar é muito claro. De qualquer forma, criou uma série de oportunidades e mostrou quão capazes somos de dar resposta à adversidade, de nos adaptarmos, de lutarmos, de fazer quase o impossível para controlar um vírus ou outras ameaças. Quando tudo começou, fomos capazes de conter a doença por um período de tempo que utilizámos para organizar as respostas seguintes. E isso porque tínhamos um Plano de Contingência que aplicámos. Agora, nesta fase atual, com vacinas que foram descobertas e fabricadas em tempo recorde, teremos controlado a transmissão do vírus para níveis que conseguiremos gerir sem disfunção excessiva. Apesar do sucesso que foi a vacinação em Portugal e noutros países, continuamos com receio das mutações, das variantes, se as variantes vão ser mais agressivas, se vão ter capacidade de escapar ao nosso sistema imunitário. Esta pandemia está longe de ter terminado. Ainda temos de estar atentos e vigilantes, de estar cautelosos, mas, simultaneamente, temos de viver vidas mais livres e, portanto, aqui também uma palavra de otimismo, de esperança, porque temos de continuar a cuidar dos nossos, a ver os amigos, a descansar, a divertirmo-nos, a passear, a cultivarmo-nos, a fazer planos. Esta é a grande capacidade que temos enquanto seres humanos: regenerar-nos e, apesar das adversidades, olharmos sempre para a frente e continuarmos, lutando por uma sociedade mais justa, melhores condições de trabalho, melhores condições de saúde, melhores condições de vida. Há sempre um admirável mundo novo à nossa espera.
Qual seria, no seu entender, a mudança mais urgente que o país e o mundo precisariam operar nos próximos 20 anos?
Gostaria que os próximos anos trouxessem maior solidariedade, mais justiça e menos desigualdades, iniquidades e assimetrias, aproveitando a transformação digital para impulsionar a excelência e a segurança nas várias vertentes da nossa vida individual e coletiva, maior capacidade de nos entendermos, de comunicarmos, para alcançar objetivos para o bem comum, melhorando de alguma forma o que somos enquanto espécie, mais criativa, mais justa, mais empática, humanizada e solidária. Pensamos muitas vezes nas diferenças que há na região europeia e mesmo no nosso país, mas também no mundo, e preocupamo-nos com essas diferenças, que nos separam, que criam fossos entre os povos, que nos ameaçam em conjunto. Esta pandemia provou que a fragilidade de uns é a vulnerabilidade de todos.